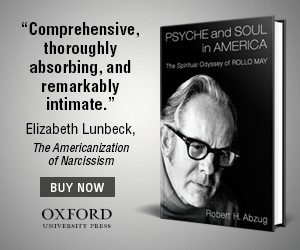Nosso barco deslizava calmamente sobre o rio Tapajós, quando, de forma inesperada, a monotonia hipnótica da Amazônia foi quebrada por pequenos corpos saltando na água.
Um punhado de crianças da tribo local Munduruku havia se pendurado em árvores ao longo da margem do rio. Ao nos ver chegando, elas pularam na água escura, subiram a bordo do nosso barco e começaram a examinar o que quer que chamasse a atenção: um boné de beisebol, um bloco de anotações, um tubo de protetor solar.
Com a curiosidade saciada, elas mergulharam de volta ao rio sem dizer uma palavra. A mensagem era clara: Esta é sua casa. É sua terra. Este trecho da selva brasileira está na linha de frente da mais recente batalha épica entre a conservação e o desenvolvimento na Amazônia. A aldeia de Sawré Muybu, onde vivem as crianças, seria inundada como parte do plano da presidente Dilma Rousseff para construir cinco grandes hidrelétricas no Tapajós. As barragens teriam capacidade para fornecer 10.700 megawatts de eletricidade limpa, o suficiente para abastecer mais de 10 milhões de lares e ajudar a evitar que a constante escassez de energia do Brasil tire a economia dos trilhos.
Tais confrontos não são novos. Mas eles estão evoluindo. Tanto a tribo Munduruku quanto o governo de Rousseff aprenderam com as batalhas recentes, como a travada sobre a construção do complexo hidrelétrico de Belo Monte, cerca de 600 quilômetros ao leste daqui, que se tornou uma causa internacional célebre.
Dessa vez, o governo se comprometeu a tomar todas as medidas necessárias para evitar outro desastre. Ele afirmou que vai realizar um estudo de impacto ambiental, consultar os grupos indígenas que vivem na área e levar em consideração as necessidades das comunidades ribeirinhas tradicionais.
No entanto, os membros da aldeia Sawré Muybu contaram uma história diferente quando a Americas Quarterly os visitou, no início deste ano. E, ao contrário das gerações anteriores de povos indígenas, eles estão usando todos os meios legais, políticos e simbólicos disponíveis para lutar e preservar seu modo de vida.
Nosso grupo caminhou por uma trilha íngreme e molhada às margens do rio e se aproximou da aldeia. Sob um telhado de palha, um rapaz e um menino se arcavam sobre duas assadeiras enormes, usando grandes pás de madeira para mexer os montes de farinha de mandioca que secavam dentro delas.
O ar úmido era enriquecido pelo aroma amendoado da farinha. Por trás das torrefadoras havia um grande tonel onde mais raízes de mandioca eram submergidas antes de serem socadas, moídas e depois transferidas para as assadeiras.
Várias crianças, um cachorro e alguns adultos observavam, incluindo Antonio Dace Munduruku. Antonio, um homem pouco imponente e de fala mansa, de shorts e chinelos, estava no comando enquanto o cacique da aldeia visitava Brasília para se reunir com autoridades do governo e discutir a barragem. Ele também não gosta de falar com estranhos. Só depois que o tranquilizamos, garantindo que tínhamos a autorização do chefe para a visita — havíamos cruzado com ele no rio e conversamos — Antonio finalmente concordou em falar.
“Eles dizem que essa barragem vai trazer desenvolvimento, crescimento. Não para nós”, disse ele.
“Nossa força está nesta terra. Se a gente perder isso, a gente perde tudo: nossa cultura, nossa língua, nossa dignidade.”
A primeira e maior das cinco represas planejadas — a São Luiz do Tapajós, avaliada em US$ 9,9 bilhões — é a que engoliria a Sawré Muybu.
Os Munduruku batalham há quase 15 anos para que a terra em torno da aldeia seja oficialmente demarcada como reserva indígena, o que tornaria mais fácil lutar contra a barragem. A Constituição brasileira de 1988 também está do lado da tribo: Ela exige que eles sejam consultados antes que as terras sejam exploradas para extração de recursos, e diz que eles só podem ser removidos em caso de catástrofes, epidemias, ou para proteger a soberania nacional.
Até 2013, parecia que eles tinham vencido a batalha. Um relatório da Funai, a Fundação Nacional do Índio, concluiu que esta terra era “necessária para a reprodução física e cultural dos Munduruku que nela habitam”. Mas o passo que tornaria essa designação oficial — a publicação no Diário Oficial — nunca aconteceu.
A burocracia brasileira é famosa por seus atrasos, mas os Munduruku suspeitavam dos motivos reais do governo. Eles procuraram a ajuda da Defensoria Pública estatal, que ordenou que a Funai publicasse a decisão no Diário Oficial para evitar uma multa diária de R$ 10 mil. A agência respondeu que continuar o processo seria muito caro, dando início a um litígio no tribunal federal que ainda está em curso.
Finalmente, em outubro de 2014, os piores temores dos Munduruku foram confirmados — diretamente da boca de Maria Augusta Assirati, então, a presidente da Funai.
“O processo está sobre a minha mesa, pronto para ser deliberado”, disse Assirati aos Munduruku durante uma reunião gravada em vídeo, em Brasília. Mas ele não pode ir em frente, acrescentou, porque “vocês sabem que ali tem uma proposta de se realizar um empreendimento hidrelétrico, que vai contar com uma barragem […] e essa barragem está muito próxima à terra de vocês”.
Nove dias depois da admissão surpreendente, Assirati deixou o cargo, alegando razões pessoais. Em sua primeira entrevista depois de sair, ela disse que sentia um “grande descontentamento e constrangimento” de trabalhar para um governo que praticamente paralisou o trabalho da Funai.
“A orientação é no sentido de que nenhum processo de demarcação em nenhum estágio tramite sem a avaliação da Justiça e da Casa Civil”, disse ela à Agência Pública.
A essa altura, os Munduruku começaram a recorrer a medidas mais radicais. Quando os investigadores que trabalhavam num relatório de impacto entraram em seu território, sem autorização, eles apreenderam três biólogos. No ano passado, 90 deles invadiram os escritórios regionais da Funai para exigir ação.
O governo federal reagiu enviando dezenas de agentes da Polícia Federal, equipados com armas de alta potência e helicópteros para resgatar os biólogos, e usando policiamento para acompanhar os inspetores.
Antonio disse que a aldeia não confia no governo ou em seus emissários.
“O governo não está jogando limpo”, disse Antonio. “Eles não seguem nem as leis deles.”
O argumento usado para explicar por que essas enormes barragens são consideradas necessárias está enraizado em um emaranhado complexo que inclui o crescimento econômico recente do Brasil, erros políticos e geografia.
A gigantesca rede fluvial brasileira, que se estende por uma área de mais 11 milhões de quilômetros quadrados, já gera mais de 75 por cento da eletricidade do país. Com 60 por cento do seu potencial ainda inexplorado, é um alvo óbvio para novos projetos de desenvolvimento.
A energia hidrelétrica tornou-se mais polêmica nos últimos anos, principalmente por causa de preocupações ambientais. Os Estados Unidos até desativaram algumas barragens. Mesmo assim, os defensores da expansão, incluindo a presidente Dilma Rousseff, argumentam que as necessidades de desenvolvimento do Brasil são urgentes.
“O Brasil é um país abençoado, porque pode gerar energia a partir da força de seus rios”, disse Rousseff no ano passado em seu programa semanal de rádio, “Café com a Presidenta”.
“Nosso país está crescendo muito, e precisa crescer cada vez mais para que todos os brasileiros tenham acesso aos benefícios do mundo moderno”, continuou Rousseff. “Precisamos expandir a indústria, gerar muitos empregos. Para isso acontecer, é preciso energia.”
Na esteira de um forte crescimento econômico que tirou dezenas de milhões de pessoas da pobreza durante os últimos 20 anos, o governo de Dilma afirmou que o Brasil precisava elevar sua capacidade de geração de 121 mil megawatts em quase 6 por cento a cada ano até 2022.
No entanto, a má gestão do governo agravada pela seca provocou tumulto no setor de energia. Impostos elevados e atrasos na construção de novos projetos também tornaram a energia brasileira a mais cara do planeta segundo algumas medidas.
“Tivemos uma série de erros graves no setor, com uma correspondente perda de vantagem competitiva para a indústria brasileira”, diz Claudio Sales, presidente do centro de estudos Instituto Acende Brasil.
Como resultado, os brasileiros vão ver as suas contas de eletricidade subir em cerca de 50 por cento ou mais este ano, diz Sales. Esse cenário, além do fato de que a maioria da população brasileira vive longe da Amazônia, ao longo da costa sudeste, pode explicar por que as batalhas contra novas barragens não recebem muita atenção nacionalmente. A recessão e os problemas políticos de Dilma tendem a atrair a maioria das manchetes. Os Mundurkus estão, de certa forma, sozinhos.
Pimental, a uma hora de viagem de barco de Sawré Muybu, é uma aldeia de pescadores com cerca de 700 habitantes, entre eles indígenas, europeus e afrodescendentes. Aqui também a terra será inundada se a barragem São Luiz do Tapajós for em frente. De qualquer forma, a perspectiva de empregos e pagamentos de compensação é tentadora para alguns moradores.
Um estudo do governo previu que a construção poderia trazer 13 mil trabalhadores para a área. “O povo daqui, muitos têm esperanças. Eles acham que, com todo esse dinheiro circulando, uma parte vai pra eles”, disse João Pereira Matos, um comerciante local.
Hoje, a maioria dos habitantes de Pimental sobrevive da floresta e do rio que a rodeia, dos imponentes tucunarés que eles retiram do rio no punho, dos tatus, capivaras e antas que caçam. Ao longo das ruas de terra batida de Pimental, os moradores levam uma vida autossuficiente e austera em casas simples de madeira ou de pau-a-pique. Muitos têm uma pequena horta onde plantam mandioca e algumas verduras; eles sabem onde estão as árvores de castanha do Pará, as bananeiras, os muricis e outras frutas silvestres.
Matos questiona se desistir de tudo isso valeria a pena. “Ninguém aqui tem muito estudo. Talvez um ou dois vão conseguir trabalhar na construção. A verdade é que longe desta terra, eles não conseguem sobreviver.”
“Aqui é um lugar bom pra criar os filhos”, acrescentou. “Nós não queremos ser outro Belo Monte.”
A comparação com o projeto hidrelétrico mais infame do Brasil é frequente aqui. Os confrontos sobre Belo Monte se tornaram tão aquecidos no fim dos anos 2000 que o diretor de cinema James Cameron comprou a causa e chamou-a de “o Avatar da vida real”, uma referência a seu filme sobre um desastre ecológico e suas consequências. A São Luiz do Tapajós poderia ser considerada a segunda parte: muitas das empresas envolvidas em sua construção são as mesmas de Belo Monte.
Dessa vez, o consórcio contratou uma empresa de relações públicas para produzir uma série de panfletos coloridos com títulos como “Perguntas e respostas sobre os estudos de viabilidade para a Represa São Luiz do Tapajós.” Aparentemente, cada aldeão tem uma cópia, muitas vezes escondida em um saco plástico para protegê-la de sujeira e umidade. No entanto, poucos professam compreender plenamente — ou acreditar — em seu conteúdo.
Nenhuma campanha de relações públicas consegue dissipar as preocupações ambientais relacionadas com o projeto. Mesmo pelos padrões elevados de eco-diversidade da Amazônia, a Bacia do Tapajós se destaca, diz Adrian Barnett, um ecologista britânico especializado em florestas tropicais baseado no Inpa, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que trabalha na região desde a década de 80. Este rio tem mantido seu curso por mais de 100 milhões de anos e “tem ecossistemas que existem há mais tempo que os mamíferos, sem falar a própria humanidade”.
Os números não são a melhor forma de descrever a diversidade da vida, mas, nesse caso, eles fornecem uma boa janela: Existem 682 tipos de aves na Bacia do Tapajós, três delas ameaçadas de extinção; 95 tipos de mamíferos, dos quais 13 estão ameaçados, 352 tipos de peixes e 302 espécies de borboletas.
Grande parte dessa vida é altamente especializada. Há peixes que só existem em seções específicas das corredeiras, aves que prosperam apenas em certas ilhas fluviais, andorinhas e gaivotas que fazem ninhos nos bancos de areia que são expostos apenas durante a estação seca. A flora inclui arbustos com folhas minúsculas que suportam o calor escaldante da estação seca e raízes que parecem garras, capazes de ficar meses debaixo d’água, resistindo à torrente de água da estação de chuvas.
Essa barragem, como as barragens no Madeira e Xingu, usaria o modelo “fio d’água”, que contorna a necessidade dos enormes reservatórios do passado. Mesmo assim, só a São Luiz do Tapajós ainda cobriria cerca de 73 mil hectares, de acordo com o Relatório de Impacto Ambiental oficial.
Barnett diz que qualquer projeto que detenha de forma significativa o fluxo de água do rio “poderia ter um impacto fora de qualquer proporção com o tamanho da construção”.
Depois de passar esse tempo na Amazônia, saí com a impressão de que o desenvolvimento iria mais uma vez sair ganhando — como aconteceu em Belo Monte. Uma das perguntas que guiaram a minha visita era se o conflito sobre a barragem, com suas repercussões internacionais negativas e atrasos onerosos, havia incentivado uma nova abordagem para projetos maciços. Mas viajar ao longo do Tapajós deixou claro que muitas autoridades e cidadãos comuns continuam a ver a preservação da diversidade natural e riqueza cultural como custosos obstáculos para o desenvolvimento econômico, e não tão valiosos quanto as prioridades nacionais.
Em lugares como Itaituba, uma cidade de 130 mil habitantes, é possível ver os resultados desse tipo de decisão.
Itaituba cresceu aos solavancos, em meio aos ciclos econômicos de expansão e quebra da região: borracha, ouro e, em seguida, megaprojetos como a rodovia Transamazônica, que dividiu a cidade nos anos 70.
Tal como a Transamazônica, que décadas mais tarde é pouco mais que uma faixa de terra esburacada, Itaituba tem um ar de promessa não cumprida. O esgoto cruza a cidade em calhas e termina no rio Tapajós, que também é a fonte de água potável da cidade. As ruas não são asfaltadas e, nas esquinas negligenciadas, veem-se pilhas de lixo. No entanto, pessoas como Valmir de Aguiar, ex-prefeito da cidade e o maior empresário da região, fizeram fortuna com o gado, a mineração de ouro, o mercado imobiliário e a construção.
Ele prevê que a barragem São Luiz do Tapajós gere uma bonança similar — de trabalhadores, investidores e empresários. A demanda por combustíveis dobrou entre 2014 e 2015, e Aguiar espera que ela dobre novamente em breve. Como um homem de visão, ele já está abocanhando imóveis, construindo um novo hotel, outro posto de gasolina.
“Itaituba vai dobrar nos próximos anos”, diz ele. “Isso vai trazer alguns problemas? Com certeza. Mas esse é o preço do progresso.”
—
Juliana Barbassa é jornalista independente premiada e autora de Dancing with the Devil in the City of God: Rio de Janeiro on the Brink, livro ainda inédito no Brasil que se baseia nos anos em que ela trabalhou como correspondente da Associated Press no Rio de Janeiro. Atualmente, ela mora na Suíça.