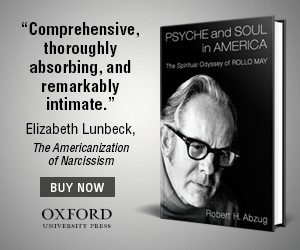Este artigo foi adaptado da edição impressa da AQ sobre as Forças Armadas na América Latina | Read in English
BRASÍLIA – Em um quadro de militares repleto de generais talentosos, Carlos Alberto dos Santos Cruz é considerado um dos melhores.
Após uma ilustre carreira no Exército brasileiro, recebeu um pedido da ONU em 2007 para que liderasse a missão de paz no Haiti. Seu trabalho foi bom a ponto de a ONU recorrer a ele novamente em 2013, com uma tarefa ainda mais difícil – o comando de 23,000 soldados na República Democrática do Congo (RDC). Nos dois anos seguintes, Santos Cruz liderou ofensivas contra rebeldes congoleses, além de ter sobrevivido a vários tiroteios e a um pouso de emergência do helicóptero que o transportava. Ele provou ser um estrategista tão perspicaz que a ONU pediu-lhe um relatório com recomendações sobre como melhor proteger as tropas. A conclusão do trabalho: um “déficit de liderança” dentro da organização causara um aumento de fatalidades no campo de batalha.
Sua forte experiência e coragem levou muitos políticos brasileiros e investidores a sentirem-se aliviados quando, no final de 2018, Jair Bolsonaro ofereceu a Santos Cruz uma posição no alto escalão do novo governo. A teoria era que ele, juntamente com outros oficiais da reserva no topo da burocracia — incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão —, ofereceria apoio gerencial a um presidente com poucos aliados, além de ajudar a moderar a personalidade notoriamente mercurial de Bolsonaro. “Esses caras são os melhores dos melhores,” disse-me uma figura importante do mercado financeiro, à época. “Eles são uma garantia de que nenhuma loucura acontecerá neste governo.”
Não durou muito. Apenas quatro meses depois Santos Cruz se viu no meio de um tiroteio de fogo amigo que, pelo menos em sua sordidez, rivalizava com qualquer coisa que ele tivesse visto na África. Olavo de Carvalho, filósofo que vive na Virgínia (EUA) e guru da família Bolsonaro e de seus seguidores, chamou Santos Cruz de um “merda” e de “bosta engomada” em redes sociais. Um dos filhos de Bolsonaro, Carlos, também se juntou aos ataques e a hashtag #foraSantosCruz virou assunto do momento no Twitter.
A causa específica da disputa ainda não ficou clara, mas o ponto principal foi que houve uma ruptura entre a “ala militar”, mais pragmática, do governo Bolsonaro e os “conservadores do movimento”, muitos deles evangélicos que queriam ações mais radicais em questões como armamento e a chamada “ideologia de gênero.” Em junho de 2019, Bolsonaro se posicionou para agradar a segunda facção e, no período de uma semana, demitiu Santos Cruz e dois outros generais da reserva que ocupavam cargos no governo.
Quando conversei com Santos Cruz alguns meses depois, ele estava em Nova York aconselhando a ONU novamente. Parecia ter virado a página. Mas ele insistiu em um ponto: de que a idea de que ele ou outros generais controlariam Bolsonaro sempre foi “absurda.”
“Você não consegue controlar nem uma criança depois dos 16 anos. Boa sorte se tentar controlar um presidente de 60 anos”, disse Santos Cruz. “Esse governo vai continuar com esse perfil. É complicado.”
 General Santos Cruz em um evento com o Presidente Bolsonaro quando ainda era Secretário de Governo.
General Santos Cruz em um evento com o Presidente Bolsonaro quando ainda era Secretário de Governo.
De fato, a história de Santos Cruz mostra o relacionamento complexo e mutável entre as Forças Armadas brasileiras e o governo Bolsonaro após um ano no poder. Por um lado, os militares continuam mais envolvidos com a política do que em qualquer outro momento desde o final da ditadura de 1964 a 1985. Eles recuperaram parte de seu papel histórico como uma “força moderadora” que se vê como guardiã do interesse nacional do Brasil, livre das necessidades egoístas dos políticos civis. Cerca de um terço do gabinete de Bolsonaro é composto por militares da ativa e da reserva, com dezenas de outros em posições-chave em diversas pastas do governo. Eles têm exercido influência visível em políticas públicas, incluindo os incêndios recentes na Amazônia e as relações do Brasil com a China, os Estados Unidos e o Oriente Médio.
Mas também está claro que o distanciamento é real — e crescente. Alguns outros membros da “ala militar” do governo foram demitidos ou marginalizados nos últimos meses. Para escrever esse artigo, conversei com mais de uma dúzia de militares, da ativa ou reservistas, incluindo seis generais. Muitos expressaram profundo desconforto com o estilo combativo de Bolsonaro e a constante sensação de crise que tem caracterizado seu governo, mesmo enquanto a economia começa a mostrar sinais de vida. Eles também sentem que os militares se encontram diante de um dilema: enquanto muitos de seus representantes estão sendo deixados de lado, a instituição ainda vai levar a culpa se Bolsonaro fracassar. “Sempre relembramos a tropa que não estamos em um governo militar,” um general me falou. “Mas também sabemos que, se as coisas não derem certo, serão necessários mais 30 anos antes de podermos voltar a participar da política.”
Dentro e fora da política
A verdade é que a relação entre Bolsonaro e os militares sempre foi complicada — especialmente quando ele ainda era soldado.
Paraquedista do Exército entre 1977 e 1988, Bolsonaro nunca ascendeu acima do posto de capitão. Em 1985, ele deu uma entrevista à revista Veja denunciando baixos salários para os escalões mais baixos dos militares. O artigo irritou tanto seus comandantes que Bolsonaro ficou preso por 15 dias por insubordinação. No ano seguinte, a Veja publicou detalhes do que dizia ser um plano de Bolsonaro para interromper o fornecimento de água no Rio de Janeiro com explosivos, novamente para protestar contra os baixos salários. Bolsonaro foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, mas foi absolvido por falta de provas. Logo depois, em meio à retirada dos militares da política, o general Ernesto Geisel, que foi presidente do regime militar na década de 1970, referiu-se publicamente a Bolsonaro como um “mau militar” e um “caso anormal.”
Como ocorreria 30 anos mais tarde com sua candidatura presidencial, toda essa atenção negativa atraiu muitos fãs para Bolsonaro. Ele foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e depois para o Congresso Nacional em 1991, onde se tornou um defensor de aumento de salários para militares e uma voz solitária de nostalgia pela ditadura. Isso o tornou popular com sua base política, mas os generais estavam indo na direção oposta. A sociedade como um todo ainda estava zangada com os abusos de direitos humanos e a má administração econômica dos anos da ditadura, deixando a liderança militar se sentindo como “gato escaldado,” disse-me o general da reserva Alberto Mendes Cardoso. “O brilho dos militares tinha diminuído. Havia um sentimento de que a política não valia a pena, de que deveríamos ficar onde estamos sob a constituição.”
Mas com o passar do tempo, três eventos iriam atrair os militares de volta ao campo político.
O primeiro foi a imensa corrupção e desordem dos anos finais da era do Partido dos Trabalhadores (PT), que governou o Brasil entre 2003 e 2016. A administração do PT culminou na pior recessão da história do Brasil, mas aparentemente foram os escândalos de corrupção que mais enfureceram a liderança militar e sua mentalidade de lei e ordem. Em abril de 2018, o então comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, tuitou que os militares estavam “atentos às suas missões institucionais” e seu “repúdio à impunidade.” O significado dessa mensagem não deixou ninguém em dúvida: no dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomaria uma decisão que poderia impedir o encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção. Embora seja improvável que as palavras de Villas Bôas tenham influenciado a decisão do STF, o fato é que Lula acabou passando mais de um ano na cadeia. O tuite “foi o momento que anunciou o retorno das Forças Armadas à política,” me disse um oficial de nível médio. “Foi lamentável, mas necessário.”
O segundo grande fator foi a revolta dos militares contra a Comissão Nacional da Verdade, que a ex-presidente Dilma Rousseff criou em 2012 para investigar abusos de direitos humanos durante a ditadura. Isso me surpreendeu — eu cobri a comissão exaustivamente como repórter, e os militares permaneceram silenciosos naqueles anos. Diferentemente da Argentina e do Chile, não havia a intenção de condenar líderes por crimes cometidos no passado. Mas durante entrevistas para esse artigo, ouvi repetidamente indignação contra a comissão — e a crença de que o “insulto à nossa honra,” como caracterizou um general, teria contribuído para a deterioração da reputação das Forças Armadas, e possivelmente para seu orçamento, a menos que seus líderes se tornassem politicamente ativos novamente.
A gota d’água foi a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que paralisou a entrega de alimentos, combustível e remédios por todo o país e deixou comandantes militares preocupados com a possibilidade da liderança civil perder o controle da situação. Em protestos pelo país afora e em frente a várias instalações do exército, muitos brasileiros pediam que os militares “salvassem” o país; uma pesquisa mostrou que 40% da população teria apoiado um golpe. Durante o período da guerra fria os generais poderiam até ter atendido aos apelos. Mas as pesquisas eleitorais já estavam mostrando um rosto familiar — Bolsonaro — liderando a corrida para as eleições presidenciais em outubro. Bolsonaro ressaltou seu passado no Exército — as partes boas, pelo menos — para reforçar sua credibilidade com os eleitores. Uma parceria mais profunda começou a se enraizar, graças em grande parte ao general Augusto Heleno, outro general de quatro estrelas que havia comandado a missão da ONU no Haiti. “Existe uma consciência no público de que os militares podem colocar essa casa em ordem,” disse Heleno na época. “Temos plena consciência que um golpe não é o caminho a seguir. O caminho será a próxima eleição.”
Não existia, e ainda não existe, um papel formal para os militares no governo Bolsonaro fora do que está determinado na Constituição de 1988. Mas ele recorreu a vários membros das Forças Armadas para preencher áreas fundamentais, incluindo educação, infraestrutura e outras.
“Havia vontade de ajudar porque – modéstia à parte – temos boa capacidade administrativa,” me disse o general da reserva Marius Teixeira Neto, ex-comandante militar da região nordeste e próximo à oficiais do governo Bolsonaro. “Nosso pessoal não se corrompe e queremos o que é bom para o país. Somos sérios. E como todos sabem, ninguém consegue governar sozinho.”
Aliados – E Depois Ruptura?
Nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a influência da “ala militar” estava muito clara. Seus líderes não agiam como um bloco unificado, nem se comunicavam regularmente entre si — “Isso é um mito”, disse Santos Cruz. Mas havia uma convergência em torno de pontos chave, decorrentes de ensinamentos e correntes ideológicas que fazem parte da instituição a décadas — sobretudo, uma ênfase na soberania nacional e nos interesses de longo prazo do Brasil em contraste com o que os militares veem como modismos ideológicos passageiros. Enquanto isso, alguns observadores perceberam uma velha dinâmica: embora Bolsonaro fosse presidente, alguns generais continuaram a tratá-lo como um capitão, sem medo de desafiá-lo — mesmo em público.
Durante sua primeira semana como presidente, Bolsonaro cogitou a possibilidade de oferecer aos EUA uma base em território brasileiro mas recuou após a reação negativa de líderes militares. Oficiais militares também ajudaram a convencer Bolsonaro a não se retirar do Acordo de Paris ou a mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém imediatamente, por temor de que ambas ações pudessem alienar clientes do agronegócio brasileiro. O vice-presidente Hamilton Mourão, tambem um general de quatro estrelas, contradisse abertamente o presidente em várias ocasiões — descartando a fala dura de Bolsonaro sobre a China como “retórica de campanha” e insistindo que o Brasil deveria deixar de lado a ideologia anticomunista ao lidar com o seu maior parceiro comercial.
Em alguns casos – particularmente com a China – as ideias da ala militar parecem ter prevalecido. Mas, à medida que 2019 avançava, e Bolsonaro se tornava mais confiante no seu poder, ele passou a atacar mais aqueles que procuravam controlá-lo. Esse posicionamento foi incentivado pelos três filhos que estão mais próximos à ala evangélica da base de Bolsonaro, e que temiam que Mourão em particular não fosse leal. (Em uma reviravolta estranha, alguns próximos à família sugeriram a Steve Bannon, ex-chefe de campanha de Donald Trump, que criticasse Mourão na imprensa brasileira.) A preferência da ala militar pela mudança gradual também a colocou em um conflito crescente com o outro grande centro de poder no governo de Bolsonaro — os reformadores pró-mercado liderados pelo ministro da economia Paulo Guedes.
Nos últimos meses, as críticas aos militares se tornaram cada vez mais fortes — e públicas. Depois que uma reforma cortou os benefícios das pensões dos militares, com termos particularmente onerosos para os escalões mais baixos, protestos eclodiram no Congresso e memes chamando Bolsonaro de “traidor” e “mentiroso” varreram os círculos militares. “O presidente só está na política porque quando ele era capitão ele defendia salários melhores para (escalões mais baixos). Agora ele nos deu uma facada mortal nas costas,” disse o chefe de uma associação que representa a classe militar, chamando o relacionamento de permanentemente “danificado.” Maynard Santa Rosa, um general da reserva que renunciou a uma posição ministerial em novembro, disse que o topo da pirâmide militar estava “perdendo a esperança” na recuperação do Brasil. “Estou torcendo para esse governo dar certo,” ele disse em uma entrevista, “mas se acontecer, vai ser por acidente.”
No entanto, falar de uma ruptura mais profunda com Bolsonaro—- ou algum tipo de ação contra ele — também parece prematuro. Mourão foi despachado à inauguração do novo presidente da Argentina em dezembro, uma missão importante e diplomaticamente sensível. Heleno continua sendo um dos assessores mais leais de Bolsonaro — e até abriu uma conta no Twitter em agosto, onde o tom de seus ataques à imprensa e à “esquerda radical” chegam muitas vezes a rivalizar com o do presidente. Bolsonaro deu um papel importante aos militares na contenção dos incêndios na Amazônia, que chamaram a atenção do mundo em meados de 2019, e também anunciou recentemente que aquisições de equipamentos militares essenciais seriam excluídas dos cortes no orçamento em 2020. Enquanto isso, a incipiente recuperação econômica, um declínio acentuado na taxa de homicídio no país, e um número reduzido de escândalos de corrupção têm mantido a aprovação de Bolsonaro estável em torno dos 40%. Até agora, o Brasil foi poupado dos protestos em massa e da agitação que atingiu outros países da América do Sul, como Colômbia e Chile.
Alguns oficiais me disseram que, apesar de todos os erros de Bolsonaro e a sensação de que estão perdendo poder conforme o governo avança, eles ainda assim estão aliviados de que o Brasil tenha escapado de uma crise ainda mais profunda. “Fomos repetidamente testados (como nação) e passamos,” disse recentemente o general Villas Bôas ao Jornal O Globo, o ex-comandante do exército que enviou o tweet infame de 2018. Até Santos Cruz expressou esperança durante nossa conversa, de um final um tanto feliz. “A melhor maneira de nos livrarmos da corrupção é (para Bolsonaro) ter um bom governo,” ele disse. “Sim, ainda acho que há chance.”